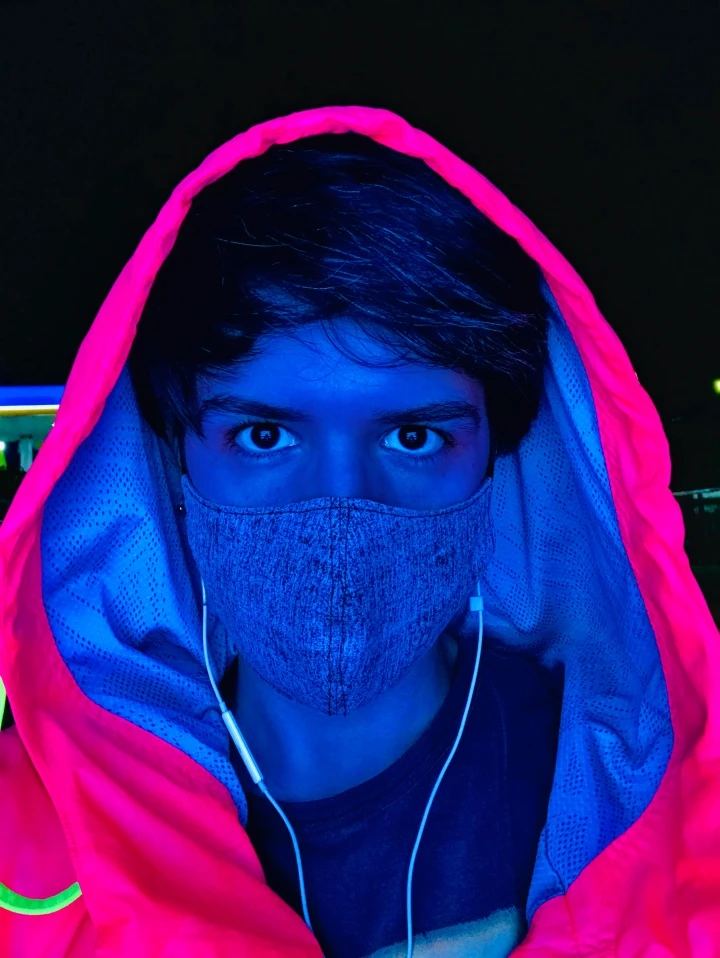Qualquer filme que leve qualquer música do Chico Buarque já é tema suficiente pra essa coluna – ainda mais se for dirigido por ela, uma das minhas cineastas mais adoradas e aclamadas pela crítica do cinema brasileiro contemporâneo, Anna Muylaert. Mas, se por um lado, abordar “E Além de Tudo me Deixou Mudo o Violão” (2013) seria de bom tom (já que me lembrei de uma das trilhas que embala esse longa, numa versão acachapante de Os Mulheres Negras), por outro lado, “A Rita” muito mais me fez pensar sobre duas ou três coisas que esbarraram no meu assombro artístico dos últimos dias.
Esse texto vai parecer meio confuso de início, mas isso talvez reflita um pouco o caos que tem sido retomar a vida mesmo diante de um cenário convulsionado no qual se encontra o contexto político cultural do país. Tá difícil vez em quando não acordar e pensar que a gente andou umas dez casas, só que pra trás, e ainda por cima ler as notícias nada otimistas, cujas manchetes nada muito positivas, trazem o prenúncio de que “esse é só o começo...”. Sejamos francos, bate uma bad. E é aí que entra a Rita, mas não a do Chico, pois na mesma frequência do último texto publicado, continuo tentando assistir algo, quando dá, e ver novamente outra coisa, quando preciso. Foi na onda do preciso que acabei revendo um filme lá de 2014, Casa Grande, dirigido por Fellipe Barbosa e adicionado recentemente ao catálogo da Netflix Brasil. Entre outras questões, é sobre ele que falarei.
(Corta para)
Dois anos atrás, quando vim pro Rio de Janeiro estudar na Escola de Cinema Darcy Ribeiro, uma instituição brasileira voltada ao ensino e promoção do audiovisual nacional, achava um máximo quando via a atriz Clarissa Pinheiro no fumódromo. A conheci nesse filme do Fellipe, quando ela interpretou a personagem Rita, que fazia a empregada da família rica em decadência. Ela era a personagem mais colorida – se assim podemos dizer, pintada com as características de uma sensualidade ingênua, mas que emana desejo, espontaneidade, e dona de todo um arcabouço riquíssimo que povoava o imaginário do filho dos proprietários da casa, Jean, interpretado pelo ator Thales Cavalcanti.
A Rita foi uma das personagens que mais me marcaram aquele período de 2013, 2014, até 2015, quando a Anna lança “Que Horas Ela Volta?”. Na época, uma série de longas cunhados na denúncia social retomam fortemente o tema do trabalho da doméstica no Brasil, anteriormente abordado no filme “Casa-Grande e Senzala” (1978), de Geraldo Sarno, e inspirado na obra literária de Gilberto Freyre (1933). Vale lembrar, que foi exatamente no ano de “Que Horas...” que a chamada PEC das domésticas formaliza e regulamenta a jornada de trabalho e os salários das empregadas no Brasil. Emblemático, mas passivo de críticas sobre abordagem datada, o filme é um arrepio quente nos ventos gelados que anunciavam os episódios posteriores à ocasião.
Revendo Casa Grande, passou outro filme na minha cabeça. Lembrei de tudo isso aí que escrevi um pouco antes de chegar nesse parágrafo, e que vai mais parecer um desabafo do que uma coluna de cinema. Lembrei do ritmo que andavam as produções nacionais nesse período que descrevi, e de como o cinema brasileiro me acolheu e me trouxe tanto conforto nos momentos das maiores dúvidas e crises, principalmente quando fui mandada embora do último emprego com carteira assinada que trabalhei. Lembrei quando cheguei no Rio e via a Rita, digo, a Clarissa, no fumódromo da Darcy. Ahhhh, a Darcy!
Seis anos depois desse filme, uma das escolas de cinema mais importantes do país está sendo despejada do prédio físico que a sediava. Com a promessa de que seguirá suas atividades no ambiente virtual, ainda há pouco, antes de escrever este texto, compartilhei uma postagem em que a direção da escola pede ajuda para conseguir os custos da retirada dos acervos, equipamentos e mobiliários. Apesar do desmantelamento, busco me animar. Continuo acreditando na potência dos seres humanos mesmo em tempos tão complexos. Mas não dá para escrever sobre cinema nacional se a gente não fizer um exercício de reflexão, e entender sua importância e relevância para a construção da narrativa histórica e social.
Por este motivo que Casa Grande é um filme sintomático; um longa que dá o tom de presságios para sentimentos confusos que tentávamos reconhecer ainda no seu período de estreia. Tem tudo ali. Tem machismo estrutural, tem racismo, tem discussão de cotas, depressão, ansiedade – doenças geradas também pela falta de um diálogo claro e sem hipocrisia. O diretor explora a decadência e um mal-estar da burguesia que passa a ser vítima do próprio sistema que ela alimenta. Lembrei de "O Anjo Exterminador" (1962), do Buñuel, em que um grupo seleto festeja a vida numa casa e de repente se vê presa. Uma metáfora a crise e a instabilidade assustadora para aqueles que juravam nunca perder o posto privilegiado numa sociedade desigual.
Eu poderia falar mais sobre os planos, especialmente os abertos, que exalam significados e que apesar de uma impressão simples e realista da forma, se manifesta no filme de maneira modesta, no entanto, digna para uma produção que consegue escapar dos moldes de uma linguagem viciada nas produções nacionais. Em Casa Grande, sem dúvida, o conteúdo é o maior trunfo. Destaque para os diálogos e situações de laços que o diretor constrói à medida que o longa vai ganhando a tela. Torço para que esse texto não soe triste, porque o filme, caros leitores, é um bocado.
(Sobe créditos finais).